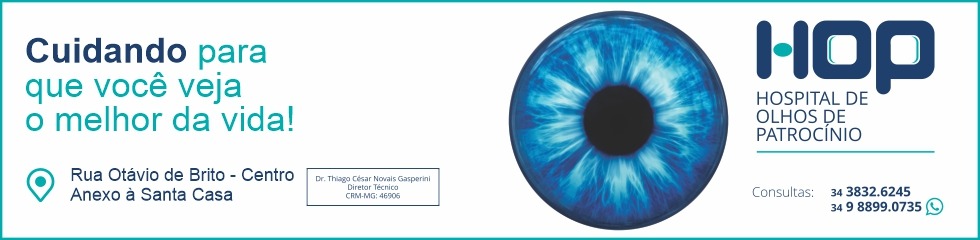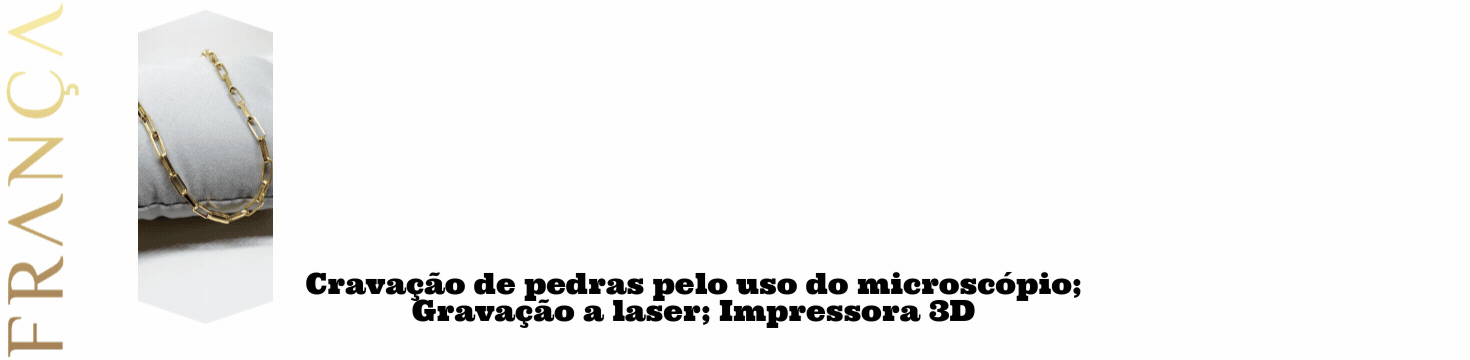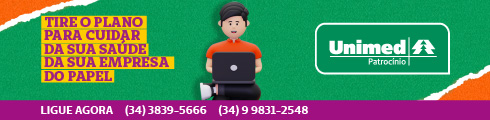A frase
apareceu de repente, como quem não quer nada, escondida entre parágrafos
distraídos de uma leitura qualquer:
"O
mundo nunca sofrerá com a falta de maravilhas, mas apenas com a falta de
capacidade de se maravilhar."
Parei. Repeti
em voz baixa. Guardei na borda da alma. Era Chesterton, disseram. E era
verdade.
Foi logo depois
disso, no final daquela mesma tarde, que me vi ali, na Serra do Cruzeiro,
subindo devagar, com o cansaço nos pés e o coração leve. Fui visitar o Cristo —
nosso Cristo — como se visita um amigo. Era fim de dia, e as nuvens haviam
descido, devagarinho, como se ajoelhadas em reverência sobre a cidade. O céu
estava tão próximo que parecia conversar comigo.
Patrocínio
respirava fundo. As serras ao redor, encobertas em névoa translúcida, pareciam
suspensas entre o chão e o céu. E eu, ali parado, me dei conta de que fazia
tempo que não me maravilhava. Não por falta de beleza — mas por ter me
acostumado a enxergar com os olhos que apenas reconhecem, e não com os que se
encantam. E maravilha não é coisa que se reconheça. É coisa que nos rouba as
palavras.
Eu não estava
apenas vendo o céu — eu o estava sentindo. Como quem sente o cheiro de café
antes mesmo de acender o fogo. Como quem sente saudade de algo que ainda nem
viveu. O céu me servia a memória em goles — e eu aceitei, quente, essa fé que
não se explica com catecismos.
E nasceu assim
a canção.
Não por plano
ou por técnica. Ela apenas veio, escorrendo pelas palavras como se já
existisse, apenas esperando por mim. Cada verso era um pedaço desse instante
suspenso entre o mundo e o espanto. E, como toda canção sincera, nasceu também
de um lugar: Patrocínio, essa terra de encantos disfarçados.
Há quem veja
Patrocínio como ponto no mapa. Eu a vejo como ponto de interrogação no peito.
Aqui, o tempo tem modos antigos. A tarde chega com cheiro de chão molhado, os
ventos sabem onde se deitar, e o silêncio não é ausência — é presença que
vigia. Foi desse tempo quieto, onde tudo canta mesmo quando cala, que tirei os
primeiros versos.
“Céu bordado
em fumaça de bruma.”
É assim que ele
chega às vezes, com a bruma acariciando as serras, como véu sobre o rosto de
uma noiva que se casa com o mundo. “Cheiro de chão quando a tarde esfria”
não é poesia — é realidade literal para quem já andou pelas ruas de terra
quando o sol decide repousar cedo. O chão de Patrocínio tem cheiro de saudade
úmida. É uma cidade que respira pelo nariz da infância.
A canção fala
da fé, mas não da fé que se grita em púlpitos. Fala da fé que se guarda em
canecas, da que se aquece devagar como leite no fogão de lenha, da que pinga
estrela por estrela no tempo morno dos dias comuns. É essa fé, talvez, que
ainda me salva quando o mundo desaba ruidoso lá fora.
E tem mais:
Patrocínio não fala — suspira.
Esse verso me
doeu de bonito quando escrevi. Porque é isso. A cidade não é feita de grandes
monumentos, mas de suspiros escondidos em manhãs de feira, em risos de menino
chutando garrafinha plástica como se fosse bola, em varais que penduram a roupa
e os dias. É terra que não cabe na mão, mas se instala nos olhos de quem
aprendeu a ver.
Poderia ser
qualquer lugar. Mas não é.
Porque só aqui
eu vi meninos colhendo nuvens com os olhos. Só aqui eu ouvi a esperança
dormindo em ninhos. E mesmo as dores mais antigas — aquelas que se guardam em
abrolhos — aqui sabem florir, vez ou outra, quando esquecem dos espinhos. Essa
cidade me ensinou que a saudade também pode ser jardim.
A ponte da
música — “tudo canta, até o que se cala” — nasceu de um pensamento que
me assombra com frequência: o de que as coisas mais verdadeiras raramente
gritam. O amor, o medo, a gratidão, a fé — todos têm uma voz que às vezes
escolhe o silêncio como forma mais honesta de dizer. E Patrocínio, ah… Patrocínio
é mestra nesse idioma.
No refrão
final, escrevi como se rezasse:
“Na caneca
quente da imensidão.”
É onde mora
minha fé. Não nas paredes frias de fórmulas prontas, mas nos instantes em que o
mundo se serve de simplicidade para me alcançar. Uma manhã fria, um chão com
cheiro de chuva, um céu que não se cansa de existir — e eu, maravilhado como se
visse tudo pela primeira vez.
Chesterton
estava certo.
O mundo não tem
falta de maravilhas. Falta é a gente se dar ao luxo de parar — não só o corpo,
mas o juízo. Falta é a gente se permitir o susto bonito do encantamento. E foi
isso que aquele céu me deu, ali no alto da serra: me desensinou o hábito e me
ensinou o espanto.
A canção “O
Céu de Minha Fé” não é só um retrato do alto. É um espelho do dentro. Um
lembrete de que ainda sou capaz de me maravilhar — e que Patrocínio, essa terra
de céu bordado e chão com cheiro de eternidade, me devolve isso todas as vezes
que olho pra cima sem pressa.
E talvez, só
talvez, isso já seja oração suficiente.