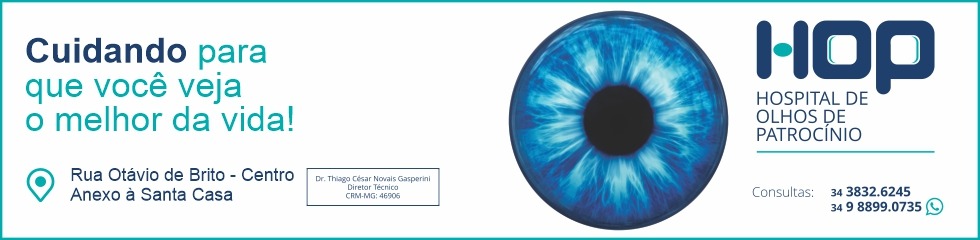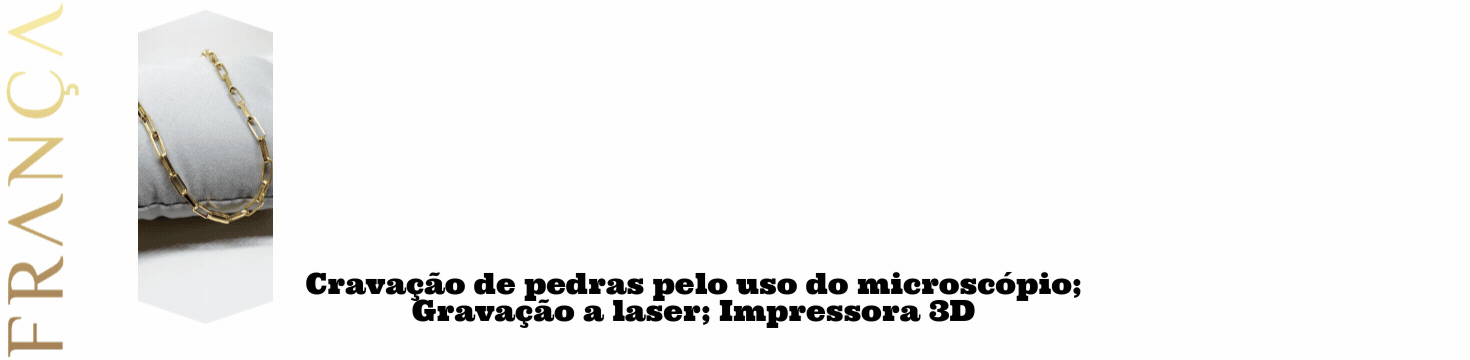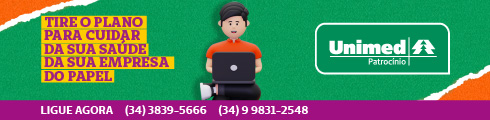Ainda não são seis e meia. A cidade boceja. O
céu é uma tela entre o azul que quer nascer e os últimos tons de laranja
dormidos na borda do horizonte. Saio para o trabalho enquanto a rua ainda
digita suas primeiras frases do dia. Há silêncio, mas não há ausência de som.
Há sons que nascem como preces — e não há reza mais sincera do que o chilreio
dos pardais logo cedo.
No canteiro central da avenida, uma árvore sem
nome me espera como quem sabe de mim. Fica a poucos passos da minha casa. É um
velho abrigo, uma catedral de galhos torcidos e folhas resistentes, onde
dezenas de pardais fazem festa todas as manhãs. São tantos, e tão vivos, que o
barulho que fazem chega a ser de alegria exagerada. Mas é impossível não parar.
Impossível não notar. E então me pergunto: se é impossível não perceber... por
que não admirar?
Há uma urgência no canto dos pardais. Não é o
mesmo canto melódico e encantador dos sabiás ou dos canarinhos que ganham
concursos de canto e páginas de poesia. O pardal não compete. Ele não se exibe.
Ele apenas canta como quem precisa comunicar algo ao mundo — talvez um
lembrete, talvez um chamado.
Enquanto passo por eles, com a mochila nas
costas e o corpo ainda tentando acordar por inteiro, tenho a impressão de que
me olham. Não com olhos de pássaros, mas com olhos de quem sabe da vida mais do
que nós. Estão ali, empoleirados em uma democracia de galhos, onde o canto de
um embala o ninho do outro, e os filhotes chilreiam como se tudo dependesse
disso — e talvez dependa mesmo.
Pardais não têm pompa. Não têm cores de
revista. São discretos, mas não são tímidos. Preferem a companhia dos homens ao
refúgio das matas. Habitam frestas, postes, calhas, beirais de telhado, letras
de letreiros. Constroem suas casas com restos — penas perdidas, folhas secas,
fiapos de mundo. São sobreviventes poéticos do caos urbano.
Vejo-os sempre ali, todos os dias, e mesmo
assim demorei a realmente vê-los. Demorei a admirar. Talvez porque o mundo nos
ensine a correr tanto que esquecemos de olhar o que não nos impressiona à
primeira vista. E o pardal não impressiona. Ele insiste. É insistência em forma
de asa. É presença.
Hoje, fico parado alguns segundos a mais, como
quem ouve uma revelação sem palavras. O trânsito ainda tímido me permite esse
luxo: a contemplação de uma árvore barulhenta. São tantos ninhos, tantos
pequeninos pios pedindo comida, aconchego, atenção. Os pais voam e voltam num
ciclo que se repete, mas que não cansa. Porque é da vida: dar, voltar, trazer.
A rotina deles é bonita. Cansativa, talvez. Mas bonita. E tão parecida com a
nossa.
Penso, enquanto caminho, em quantas coisas já
não passam diante de nós como os pardais — pequenas, constantes, preciosas —
mas não as vemos. A vida, às vezes, parece feita só dos grandes voos, das
alturas. Mas há beleza também nos voos curtos, nos que acontecem rente ao chão.
Nos que não impressionam plateias, mas sustentam ninhadas.
Há dias em que me sinto exatamente como um
pardal: comum, invisível aos olhos alheios, tentando sobreviver com os galhos
que me dão, com os restos do que sobra, mas ainda assim cantando — mesmo que
desafinado, mesmo que sem motivo aparente. E nesses dias, perceber que há
outros como eu, pousados em árvores da cidade, vivendo suas pequenas vidas com
dignidade e alegria, me consola.
O que me encanta é que eles não precisam de
muito. Um canto, um galho, um parceiro, um punhado de alimento. Nenhum deles
parece infeliz. Nenhum deles parece ansiar por outra coisa que não seja o
agora. Talvez por isso seu canto seja tão urgente — porque ele é todo presente.
Não é saudade nem esperança. É canto de quem está.
E eu, que tanto me perco entre os ontens e os
amanhãs, aprendo com eles que o tempo mais bonito é o instante que se canta.
Mesmo que ninguém ouça. Mesmo que ninguém aplauda.
Quando me afasto da árvore, os sons continuam
atrás de mim, como se quisessem me seguir, como se fossem fiapos de oração que
grudaram na minha roupa. Eu levo os pardais comigo para o trabalho. Não nas
mãos, mas nos olhos. No coração atento. Na certeza de que há delicadeza
escondida em tudo o que é constante demais para ser notado. E que a beleza nem
sempre é uma questão de brilho, mas de permanência.
Volto o olhar uma última vez antes de dobrar a
esquina. A árvore continua lá, cheia de vida e de vozes. E penso: que sorte têm
os que acordam todos os dias perto dos pardais — e ainda assim escolhem
ouvi-los.
Talvez, no fundo, a liberdade seja mesmo um
pássaro pequeno que não precisa de floresta para ser feliz. Que canta mesmo
quando não é visto. Que ensina, mesmo sem querer.
E talvez a maior sabedoria esteja em aprender
a ser como ele: viver entre os homens sem deixar de ser inteiro. Fazer ninho
onde der. Amar sem alarde. E cantar — mesmo que o mundo esteja com pressa
demais para parar e ouvir.
Confira Também
-
![]() 01/10/2025Patrocinense é campeão de Rodeio em Cachoeira Alta/GO
01/10/2025Patrocinense é campeão de Rodeio em Cachoeira Alta/GO -
![]() 01/10/2025Aberta inscrições para cursos gratuitos no Senac de Patrocínio
01/10/2025Aberta inscrições para cursos gratuitos no Senac de Patrocínio -
![]() 01/10/2025Prazo para inscrições no Trilhas de Futuro termina nesta quarta-feira (1/10)Edição traz teste vocacional e outras novidades para os alunos do Ensino Médio e EJA
01/10/2025Prazo para inscrições no Trilhas de Futuro termina nesta quarta-feira (1/10)Edição traz teste vocacional e outras novidades para os alunos do Ensino Médio e EJA -
![]() 01/10/2025Câmara Municipal de Patrocínio aprova proposta que valoriza servidores efetivos, além de outras medidas importantesA decisão reservará o percentual mínimo de 20% dos cargos comissionados e reforçará princípios constitucionais
01/10/2025Câmara Municipal de Patrocínio aprova proposta que valoriza servidores efetivos, além de outras medidas importantesA decisão reservará o percentual mínimo de 20% dos cargos comissionados e reforçará princípios constitucionais