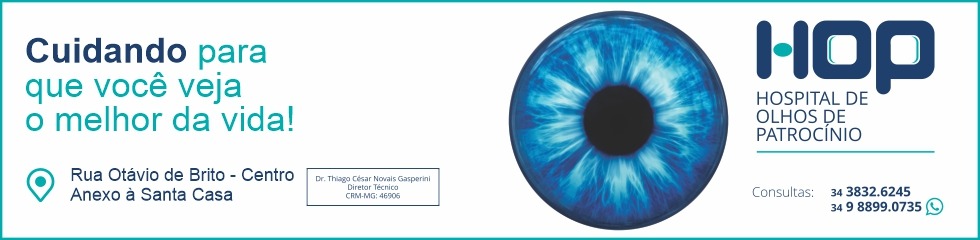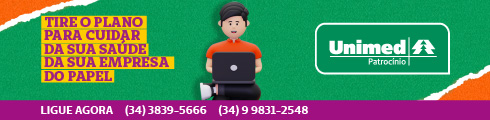Sou sempre o último a dormir em minha casa.
Não por insônia, nem por obrigação — mas por um tipo de escolha, uma fidelidade
a um momento que se repete todas as noites: o instante em que o mundo, enfim,
aquieta.
Quando todas as vozes cessam, os talheres
repousam, os passos se recolhem, e até o último tilintar da rotina se dissolve
no escuro... é nessa hora que eu me levanto. Saio devagar, com cuidado para não
acordar ninguém, como quem caminha entre sonhos alheios. Passo pela porta e me
sento diante do céu.
Mas não olho para o alto como quem pergunta
se vem chuva.
Olho porque preciso.
Olho como quem confessa sem palavras.
Ali, naquela vastidão escura bordada de
pontos de luz, há um lugar que me reconhece. Um lugar que me viu crescer. As
estrelas, indiferentes às urgências dos homens, sempre estiveram lá, assistindo
à minha transição de menino curioso para adulto contemplativo — sem jamais me
cobrar pressa.
Meu primeiro olhar para o céu foi
despretensioso, infantil. Eu tinha decorado um poema de rima simples, dito com
graça num palco de escola:
"Lá no céu tem três
estrelas, todas três encarrilhadas: uma minha, uma sua, outra da minha
namorada."
Na época, o que me encantava era o som das
palavras brincando de rimar.
Hoje entendo: aquele foi o meu primeiro pacto com o céu.
Desde então, nunca mais deixei de olhar.
Olhar demoradamente.
Olhar até que as estrelas deixem de ser só pontinhos acesos e revelem sua dança
sutil de profundidade — umas mais próximas, outras quase invisíveis, distantes
demais para o olhar apressado das cidades. E aí acontece algo difícil de
nomear: a noite se desdobra. O céu ganha três dimensões. E eu desapareço, por
um instante, dentro da imensidão.
Há quem diga que isso é apenas física, luzes
viajando no tempo.
Mas para mim, é mais: é a revelação de um elo invisível.
A cada noite, nesse gesto aparentemente banal
de olhar para cima, reencontro aquele menino que recitou um verso sem entender
o que dizia, mas com os olhos acesos de espanto.
Reencontro também o homem que sou, cercado de compromissos, medos e esperas —
e, ao mesmo tempo, ainda capaz de se maravilhar.
E reencontro aquele que um dia pretendo ser: mais leve, mais calado, mais
sábio.
Tudo isso, num simples gesto de estar diante do céu.
É como se as estrelas fossem um espelho que
só reflete o que há de mais essencial — mas apenas para quem aceita esperar.
E é por isso que gosto de ser o último a
dormir.
Porque só quando tudo dorme, eu desperto por dentro.
Só quando o mundo cessa o barulho, o universo me fala — não com palavras, mas
com uma forma de presença que não exige tradução.
Nesse momento, costumo ver estrelas cadentes.
Já perdi a conta de quantas vi. Algumas rápidas demais, outras lentas como
suspiros. Cada uma delas, um convite a desejar. E confesso: tenho guardado uma
coleção de pedidos não feitos.
Não por falta de fé, mas por excesso de respeito.
Talvez um dia eu os distribua como presentes
— se as estrelas permitirem.
Mas no fundo, não é o pedido que me importa. É o fenômeno em si.
A ideia de que algo pode cruzar o céu e desaparecer, deixando um rastro de
silêncio encantado no peito de quem viu.
Elas me lembram que existe beleza no que
passa.
Que nem tudo precisa durar para ser verdadeiro.
Que às vezes, só o brilho basta.
O céu noturno, com sua constância e mistério,
me ensina mais do que qualquer livro.
Me ensina, por exemplo, que as distâncias não são medidas apenas em espaço, mas
em tempo, em lembrança, em afeto.
A estrela que vejo agora talvez já tenha morrido, mas sua luz continua
chegando.
Assim também são certas pessoas, certos momentos, certos sentimentos.
Partem — mas continuam a iluminar de longe.
E há algo de profundamente humano nesse
entendimento.
A percepção da nossa pequenez diante do cosmos não é tristeza — é liberdade.
Porque, ao saber-se pequeno, o coração se alivia.
Não precisa mais carregar o peso de dominar o mundo. Basta estar.
E estar, nesse caso, é olhar com reverência.
Por isso, mesmo quando o dia foi exausto,
mesmo quando o cansaço me pede cama, algo em mim resiste.
Sento-me no escuro, nem sempre em busca de respostas, mas sempre em busca de
presença.
Ali, entre a sombra e o clarão dos astros, não sou melhor nem pior.
Sou apenas alguém que ainda sabe olhar.
E talvez isso já baste.
Porque enquanto eu conseguir ver nas estrelas
não apenas luz, mas sentido — então, saberei que não me perdi de mim.
E que, apesar de tudo, o menino de outrora ainda caminha comigo.
Ele que sabia, sem saber, que as rimas escondem mistérios.
Ele que apontava para o céu como quem dizia: “Olha, tem coisa lá!”
E tem mesmo.
Tem o tempo, tem a memória, tem o silêncio do mundo.
Tem a promessa de que, apesar da noite, há luz.
E que há beleza em quem espera o instante em que tudo dorme —
só para poder olhar
para cima e lembrar o
que nunca se deve esquecer:
O espanto é um dom.
E a ternura, uma escolha.