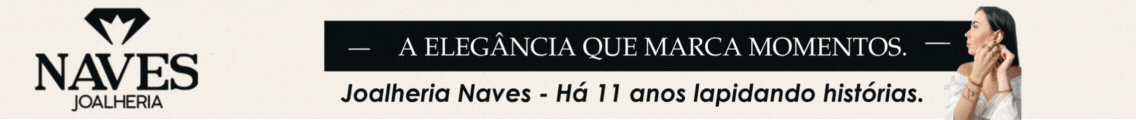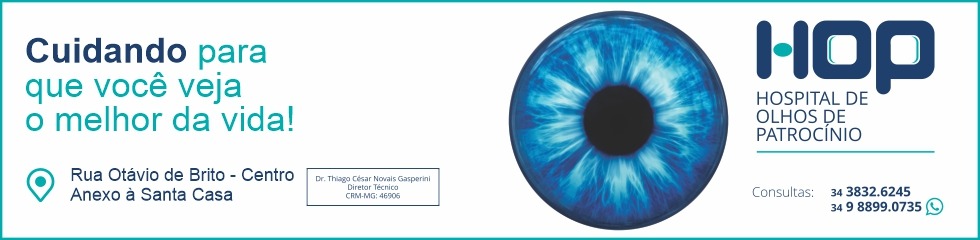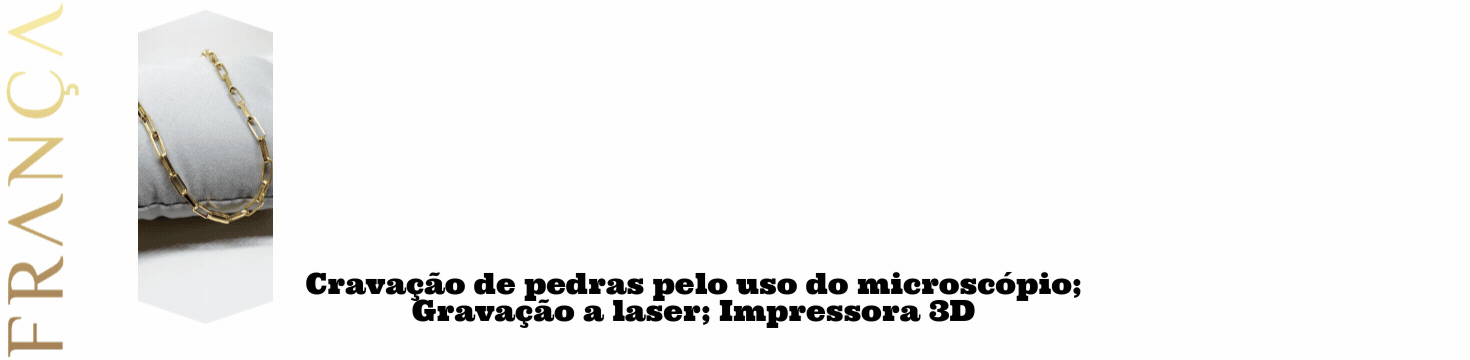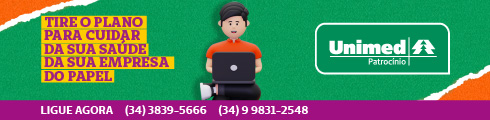“A criança é feita de cem. Tem cem modos de pensar, de jogar, de falar. Cem mundos para descobrir, inventar, sonhar.” – Rubem Alves
Desde que o tema da adultização infantil ganhou espaço nas redes e nos noticiários, senti a necessidade de refletir não apenas como pai, mas como cidadão. A comoção nacional despertou em mim a urgência de expor este texto, como contribuição à continuidade de uma corrente que não pode se dissipar em indignações passageiras. Ao olhar para o meu filho, percebo com nitidez que a infância, esse território que deveria ser inviolável, encontra-se sob ataque em múltiplas frentes.
A adultização infantil é um conceito polissêmico, que abrange diferentes dimensões. Em linhas gerais, significa a imposição de papéis, responsabilidades, valores ou imagens próprias da vida adulta sobre crianças e adolescentes em fase de formação. Essa antecipação indevida da maturidade pode ocorrer pela erotização precoce — tão discutida recentemente —, mas também pelo trabalho infantil, pela sobrecarga emocional em contextos familiares fragilizados, pelo consumismo que transforma a criança em alvo preferencial da publicidade e até pelo uso da escola como palco de exigências que anulam o tempo lúdico do aprendizado.
A erotização é apenas a face mais visível, porque choca, porque viraliza. Meninas maquiadas, meninos performando coreografias sexualizadas, imagens expostas a milhões de olhares famintos. O que muitos ainda não compreendem é que cada gesto consumido, cada curtida, cada compartilhamento serve de combustível para engrenagens criminosas que operam na sombra: exploração sexual, tráfico humano, sequestro. O Brasil já assistiu, estarrecido, à prisão de influenciadores que lucraram com a exposição indevida de menores, abrindo uma janela perturbadora para os subterrâneos da rede. É preciso reconhecer: adultizar é, frequentemente, preparar terreno para explorar; explorar é abrir caminho para destruir.
Mas a adultização não se resume à esfera digital. Ela se manifesta também quando crianças, sobretudo em contextos de pobreza, são forçadas a trabalhar cedo demais, carregando responsabilidades físicas e psicológicas para as quais não têm estrutura. O trabalho infantil, mesmo em suas formas aparentemente “leves”, compromete o desenvolvimento escolar, limita oportunidades futuras e produz marcas emocionais de exaustão precoce. A criança que troca o brincar pela labuta cotidiana é empurrada para uma adultez truncada, vivendo fases sobrepostas que jamais deveriam coincidir.
Há ainda a adultização silenciosa da parentalização: filhos que se tornam cuidadores dos próprios pais ou irmãos, assumindo responsabilidades afetivas e logísticas incompatíveis com a idade. Essa inversão de papéis compromete a constituição da autonomia, minando a segurança emocional necessária para atravessar a infância. Soma-se a isso a lógica do consumo, que reduz a criança a alvo de estratégias publicitárias agressivas, modelando desejos e valores desde cedo, distorcendo a noção de necessidade, fragilizando a autoestima.
Em todas essas manifestações, o denominador comum é o mesmo: a infância é violada em sua temporalidade própria. A criança deixa de ser cem mundos, como lembrava Rubem Alves, para ser reduzida a um só: o da produtividade, o da estética, o do consumo, o da utilidade para os outros. Essa redução mutila não apenas o presente, mas compromete o futuro.
Reconheço que muitos pais também são vítimas de um processo de alienação consumista que lhes sequestra a lucidez. Iludidos por uma cultura que transforma tudo em mercadoria, passam a crer que expor o filho é sinal de amor, que trabalhar cedo é sinônimo de caráter, que corresponder a padrões estéticos é caminho de sucesso. Confundem visibilidade com valor, curtidas com afeto, precocidade com maturidade. São, de certa forma, colonizados por um sistema que lucra com a infância encurtada.
Mas, mesmo reconhecendo essa alienação, é preciso afirmar: a responsabilidade não se dissolve. Ser vítima do sistema não autoriza a negligência. A função primeira de um pai ou de uma mãe continua sendo proteger, resguardar, interpor-se como muralha entre a criança e os predadores — sejam eles criminosos explícitos ou ideologias sutis travestidas de modernidade.
O temor que ronda este tema é real. Não se trata de retórica alarmista, mas de uma constatação empírica: há crianças sendo sequestradas, exploradas, destruídas. Há destinos sendo interrompidos. A cada vídeo que viraliza, a cada família que cede à sedução da exposição, alimenta-se uma engrenagem que desemboca em lágrimas e correntes. O risco não é teórico — é concreto, imediato, irreversível.
O enfrentamento exige múltiplas frentes. A legislação deve se atualizar e ser rigorosa. O Estado precisa ampliar políticas públicas que garantam proteção, educação integral e combate ao trabalho infantil. As escolas devem equilibrar exigências acadêmicas com o espaço do lúdico, preservando a curiosidade criativa. As famílias, por sua vez, precisam romper com a alienação consumista e assumir a tarefa árdua, mas inegociável, de dizer “não” quando o mundo inteiro parece gritar “sim”.
Como pai, assumo essa missão com temor e esperança. Temor, porque sei que a infância está sob cerco permanente. Esperança, porque acredito que refletir, escrever e agir pode contribuir para a corrente de proteção que se forma em sociedade. Meu desejo é simples e radical: que meu filho, e todas as crianças, cresçam no tempo que lhes pertence. Que descubram o mundo sem pressa, sem correntes, sem holofotes. Que possam rir sem plateia, trabalhar apenas no ofício sagrado do brincar, sonhar sem limites impostos pelo mercado ou pela violência.
Rubem Alves dizia que a criança é feita de cem. Nossa
tarefa, como pais e como sociedade, é garantir que esses cem mundos floresçam
sem mutilações. Que não sejam reduzidos à pobreza de um único papel. Que não
sejam moeda de consumo, nem mão de obra precoce, nem espetáculo para
predadores. A infância está em perigo iminente — e cada um de nós precisa
escolher se será cúmplice da destruição ou guardião da esperança.